Brasil/Mundo
Nora Lustig: “O mercado não vai reduzir por si só as desigualdades”
Professora da Universidade Tulane (EUA), Nora Lustig é uma economista especializada em como corrigir a desigualdade, reduzir a pobreza e fomentar o desenvolvimento latino-americanoNora Lustig (Buenos Aires, 1951) é uma das economistas latino-americanas mais destacadas da atualidade. Sua carreira discorreu sempre em três pistas: desenvolvimento, desigualdade e pobreza, ramos aos quais chegou por simples observação, quando sua família se mudou para os Estados Unidos, na década de sessenta. “Notei um grande salto no nível de vida”, conta, enquanto termina uma garrafa de água com gás num hotel da zona sul da Cidade do México. E começou a se fazer perguntas: “Era uma época em que não estava nem de longe na moda estudar a distribuição de renda. Ainda se associava a desigualdade a ser comunista ou radical de esquerda. Agora não mais: gentrificou-se totalmente, a disciplina se transformou e está em todas as partes”, diz a professora de Economia Latino-Americana da Universidade Tulane (Nova Orleans) e presidenta emérita da Associação de Economia da América Latina e Caribe (LACEA).
 Nora Lustig durante uma visita recente à Cidade do México. Foto: GLADYS SERRANO
Nora Lustig durante uma visita recente à Cidade do México. Foto: GLADYS SERRANO
Pergunta. Que o estudo da desigualdade tenha deixado de ser uma disciplina econômica de nicho para ocupar um lugar central é uma vitória por si só.
Resposta. É incrível. Acho que há dois fatores por trás: a queda do muro de Berlim, que acabou com a luta entre capitalismo e comunismo e rompeu tabus na economia, e a inquietação pelo crescimento da desigualdade nos EUA. Já sabemos que, quando algo acontece nos EUA, tem impacto global... Foi então quando muitos economistas famosos, de tradição neoclássica e não só marxistas, começaram a escrever sobre o tema.
P. E começou a se espalhar nos organismos multilaterais, algo impensável até então.
R. Até meados dos anos noventa, nem sequer o Banco Mundial mencionava a palavra desigualdade, e o FMI o via como um tema de política interna: só lhe interessava a estabilidade. Desde os 2000 se deu uma mudança radical, e atualmente a palavra desigualdade está continuamente presente. O Fundo também repensou sua posição: agora tem a consciência de que é um impedimento para a estabilidade e o crescimento.
P. Para que a atenção do grande público se voltasse para a desigualdade, por outro lado, foi preciso esperar até a crise financeira global.
R. É provável. Thomas Piketty, por exemplo, começou a estudar o que ocorre no 1% do teto distributivo em 2003 ou 2004. Também Atkinson, Bourguignon… Mas ninguém os conhecia. Depois houve uma mudança muito forte, e hoje ninguém mais te olha mal por estudar a desigualdade. Pelo contrário: gera interesse.
P. Por que a América Latina continua sendo a região mais desigual do mundo?
R. Na verdade, agora compete com a África em termos de desigualdade. E isso é uma novidade. O mais interessante do período recente na América Latina, entre princípios dos anos 2000 até 2012, foi a redução da inequidade: até então, o único episódio que registra uma queda em um conjunto de países e por um período longo tinha sido o pós-Segunda Guerra Mundial. Foi um fenômeno atípico: caiu num momento em que subia em outras partes do mundo.
P. A que se pode atribuir essa queda?
R. A parte estrutural foi o melhoramento educativo nos anos noventa e seu efeito no mercado de trabalho; também o giro na política social, com um aumento nas transferências aos grupos mais pobres. A conjuntural foi o boom das commodities nos 2000, que provocou um aumento na mão de obra menos qualificada e o surgimento dos Governos de esquerda.
P. O que os Executivos de esquerda mudaram na região?
R. Sua grande contribuição foi o salário mínimo: cresceu muito mais que nos países governados pelo centro ou pela centro-direita, com ou sem o boom das commodities. Essa é a política que mais distingue os Governos de esquerda e de direita: a ideologia não define as transferências [sociais], mas sim o aumento do salário mínimo real. É uma diferença muito interessante.
P. O que aconteceu a partir de 2012?
R. O fim do boom das commodities e, com ele, o esgotamento da margem de manobra [fiscal] para transferências em muitos países. Além disso, o efeito educativo foi se diluindo. Em alguns, como o Brasil ou o México, a desigualdade começa a subir, e em outros simplesmente deixa de cair.
P. A região, com a única exceção do México, girou à direita: Brasil, Colômbia, Chile… Que efeito isso pode ter sobre a desigualdade?
R. Não sei, é cedo para saber. As transferências [sociais] foram adotadas de maneira geral, não só por Governos de esquerda. E o investimento em educação tampouco é algo único da esquerda. Onde haverá, sim, uma dicotomia é novamente no salário mínimo: haverá maiores reticências a aumentos.
P. Por que os sistemas tributários corrigem tão pouco a desigualdade?
R. Depende de com que se compare. Tratar de comparar a América Latina com a Europa é uma falsa comparação: é preciso comparar quanto corrigiam os países que hoje são avançados quando tinham rendas parecidas com os países em desenvolvimento de hoje. E o que encontramos é que alguns países latino-americanos gastam mais em saúde do que gastava a Europa ou os EUA quando tinham um nível de renda equivalente. Entretanto, uma das restrições importantes é arrecadatória: os impostos sobre renda e riqueza para quem está no topo da escala arrecadatória e para as empresas está muito abaixo do que deveria.
P. O que se pode fazer?
R. É preciso falar mais de elisão, de evasão, de isenções, de taxas efetivas – que são muito menores que as reais – e, em geral, de como fazer para gerar uma arrecadação maior dos setores poderosos. E, muito importante, devemos nos perguntar a partir de que nível de renda o cidadão deve ser pagador líquido [pagar mais do que recebe em contrapartida]: se acreditamos que a linha de pobreza faz algum sentido, os que estiverem abaixo não deveriam sê-lo.
P. O grande problema fiscal está na renda.
R. Sim, em boa medida pela resistência das elites: aí é onde a desigualdade original cria um freio para corrigir a desigualdade atual. Os sistemas deveriam ser muito mais progressivos, sobretudo pela via dos impostos diretos. Há muito por fazer, começando pelos impostos sobre as heranças, que na América Latina são praticamente inexistentes e deveriam ser uma peça importante para romper o círculo vicioso da desigualdade, que vai criando dinastias de elites que capturam o Estado.
P. Por que essa recusa em taxar as heranças?
R. De novo, pela resistência dos setores que se veriam afetados. Mas é fundamental: teria impacto arrecadatório, redistributivo, e criaria regras do jogo mais equitativas na sociedade.
P. Enraizou-se, praticamente no mundo todo, o discurso da alergia fiscal: impôs-se uma corrente de pensamento que trata de reduzir os tributos a todo custo.
R. A verdade é que não sei por que enraizou-se tão profundamente. Mas é uma batalha que é preciso travar. O mercado não vai criar, por si só, sociedades mais equitativas: pelo contrário, com a mudança tecnológica serão criadas mais desigualdades e será preciso criar mecanismos para que as pessoas que já não têm emprego pelo menos tenha acesso a renda.
P. Gosta da renda básica universal?
P. Não gosto que se considere que se deve fazer sempre. Uma renda básica ou qualquer outro mecanismo universalizado implica que vai dar menos aos que estão abaixo. Se você puder direcionar os recursos para os grupos sociais ou as regiões mais pobres, terá muito mais impacto sobre a redução da pobreza. Prefiro dar mais dinheiro aos pobres, aumentar a progressividade, e que os serviços públicos sejam públicos, universais e de boa qualidade.
P. Nem sequer em um contexto de mudança tecnológica, sobretudo em países industrializados?
R. Sim, pode ser, em países avançados e mais equitativos. Mas quando você tem muitos pobres, o custo é que vai dar menos para estes. E, para mim, os pobres estão em primeiro lugar.
Utilize o formulário abaixo para comentar.
-
06/02/2026 12:55
De Alagoas para a China, empresa de mel está levando a caatinga para o mercado asiático
Presente em grandes redes do varejo a beeva fortalece a apicultura do semiárido e amplia negócios com a China.
-
01/01/2026 11:06
Mega da Virada 2025: CAIXA divulga dezenas do prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão
Sorteio foi adiado por problemas técnicos e números foram revelados na manhã do primeiro dia de 2026
-
31/12/2025 23:58
Caixa adia sorteio da Mega da Virada para esta quinta-feira; valor será de R$ 1,09 bilhão
A Caixa informou que o sorteio da Mega da Virada 2025 foi adiado para esta quinta-feira, 1° de janeiro, às 10h, em razão da necessidade de ajustes operacionais.
-
29/12/2025 14:16
Bolsonaro passa por segundo procedimento médico para tratar soluços persistentes
Ele passa por uma intervenção chamada de 'bloqueio do nervo frênico'. Desta vez, no nervo do lado direito.
-
29/12/2025 12:57
Correios prevê demissão de 15 mil funcionários e fechamento de mil agências
Plano de reestruturação foi apresentado nesta segunda-feira (29/12) pelo presidente da estatal, Emmanoel Rondon
-
Saúde em destaque
Saúde de Delmiro Gouveia mantém ritmo de crescimento e ultrapassa 1,9 milhão de procedimentos
-
Marca histórica
Delmiro Gouveia dobra Índice de Fluência Leitora em cinco anos
-
Mandado cumprido
Homem com mandado de prisão em aberto é detido durante festa em Delmiro Gouveia
-
Violência
Homem é preso por tentativa de homicídio contra pastor na zona rural de Delmiro Gouveia
Interessa a você
 Dólar5,28895,29190.0052
Dólar5,28895,29190.0052 Euro6,17906,2290-0.071
Euro6,17906,2290-0.071Blogs
-
Senadinho A oposição que vive do passado e tenta sabotar o presente em Olho D’água do Casado
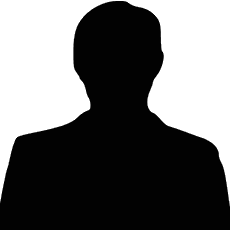
-
Haroldo Almeida Da Caatinga para o mundo: jornada da Associação de Crédito de Carbono da Caatinga na COP30

-
Wellington Amâncio Noite dos Escritores Delmirenses

-
Jota Silva Marcos Costa se coloca à disposição de Ziane para disputa em 2028 em Delmiro Gouveia

CNTV
-
Tragédia na AL-220
Polícia Civil descarta falha mecânica em acidente com ônibus em São José da Tapera
-
Tragédia na AL-220
Polícia Civil investiga acidente com ônibus que deixou 16 mortos em São José da Tapera
-
Violência doméstica
Polícia Civil prende homem por ameaçar e agredir a esposa em Santana do Ipanema
-
Se deu mal
Ação conjunta frustra tentativa de provocação e direção perigosa em Delmiro Gouveia
Enquete
Você está satisfeito com o vereador ou vereadora em quem votou na última eleição?
Últimas Notícias
-
1
Saúde de Delmiro Gouveia mantém ritmo de crescimento e ultrapassa 1,9 milhão de procedimentos
-
2
Moto furtada em Mata Grande é recuperada pela polícia após ser encontrada abandonada em Canapi
-
3
Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Ouro Branco
-
4
Educação de Olho D'água do Casado avança e celebra nota 5,7 em Fluência Leitora
-
5
Delmiro Gouveia dobra Índice de Fluência Leitora em cinco anos
Mais Acessadas
-
1
Homem é preso após esfaquear outro no pescoço e beber sangue da vítima em Pariconha
-
2
TCE aponta série de irregularidades e recomenda rejeição das contas de ex-prefeito de Canapi
-
3
Condenado a 14 anos por tentativa de homicídio, irmão de secretário é preso em Mata Grande
-
4
Idoso morre após ter bicicleta atingida por caminhão em trecho da BR-316 em Santana do Ipanema
-
5
Fotógrafa de Inhapi morre após sofrer acidente de moto com o noivo em rodovia














